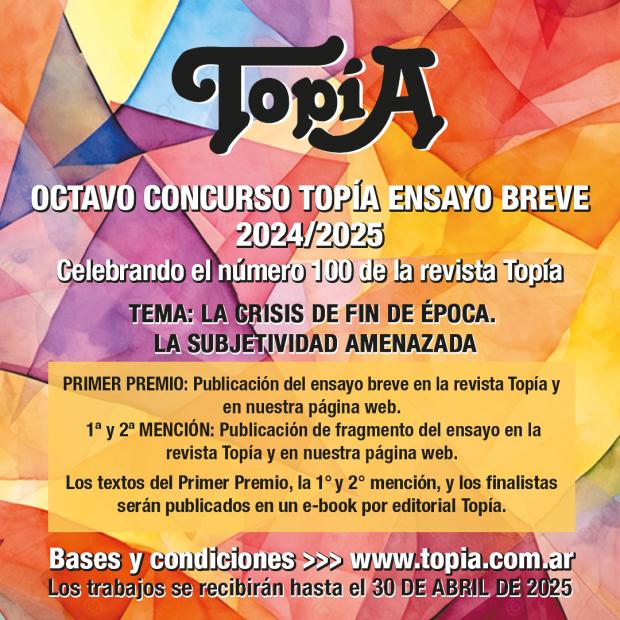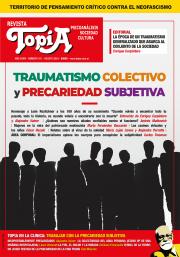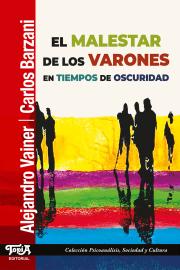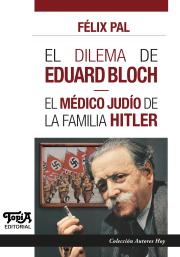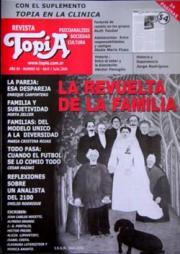Titulo
OFICINA DE CORPOREIDADE E A SAÚDE MENTAL
Autores: Felipe Wachs y Márcio de Almeida Malavolta
Seudônimos: Perna Longa, Smurf
Area teorico/practica: Nuevos dispositivos clínicos
Ejes desde donde interrogar nuestro quehacer: Las grupalidades e sus dispositivos
OFICINA DE CORPOREIDADE E A SAÚDE MENTAL
Introdução
Dentro de uma lógica de trabalho que transponha as barreiras manicomiais, mas ainda dentro de um manicômio, surge a proposta de trabalho, que agora passaremos a relatar, de uma oficina de corporeidade que desenvolve-se em uma unidade de internação aguda do Hospital Psiquiátrico São Pedro, ou seja, com pessoas em fase aguda de sofrimento psíquico. A oficina de corporeidade, enquanto alternativa de intervenção na atenção a saúde mental, aborda o ser-no-mundo de cada indivíduo. Historicamente os indivíduos, em especial aqueles ditos "loucos", sofrem com a fragmentação estabelecida entre corpo e mente nos serviços de atenção a saúde. Nossa prática parte de um corpo uno onde cada pessoa percebe e significa o mundo, é percebida e significada, relaciona-se, expressa-se, assume posturas e papéis. Existe uma valorização do indivíduo, sua individualidade e subjetividade, suas necessidades, direitos, obrigações, etc. seguindo uma lógica de alternativas mais participativas e inclusivas. Desta forma acreditamos numa intervenção que através do corpo possibilite a constituição de subjetividades. A metodologia utilizada para a pesquisa foi de revisão bibliográfica de cunho exploratório e pesquisa-ação a partir do desenvolvimento da oficina de corporeidade em um hospital psiquiátrico.
A constituição do estigma “louco”
Ao longo dos últimos quatro séculos elaborou-se uma série de construções acerca da loucura. “Louco” é um estigma que surge junto com os processos de urbanização que acabavam destacando determinados indivíduos que não se enquadravam às convenções sociais. Esses passam a ser privados de sua liberdade, sua autonomia, sua cidadania. A permanência dentro dessa lógica cronifica indivíduos de tal forma que tornam-se objetos, ou seja, sem voz, vez, desejos, escolhas, direitos e deveres, gerando assim profundas relações de dependência com a instituição. As políticas que se buscam implementar hoje procuram valorizar as pessoas portadoras de sofrimento psíquico a partir de uma lógica de inclusão social. Contudo os preconceitos que giram por trás das chamadas doenças mentais se mantém fortes. Portanto não basta destruir os hospitais psiquiátricos, é preciso também desconstruir os manicômios mentais.
É preciso ser trabalhada a corporeidade, ou seja, o modo de “ser no mundo”. Buscar constituir novas subjetividades que redescubram o prazer nesses e desses corpos.
A vida dentro de um Hospital Psiquiátrico não permite que se fuja de uma lógica manicomial, onde autonomia, subjetividade, individualidade ficam suprimidas. A permanência dentro dessa lógica cronifica indivíduos de tal forma que tornam-se objetos, ou seja, sem voz, vez, desejos, escolhas, direitos e deveres, gerando assim profundas relações de dependência com a instituição.
Loucura e institucionalização
A loucura, como qualquer outro conceito, é construída, entendida ou não, desconstruída e reconstruída no interior de cada cultura de uma maneira diferente conforme os paradigmas que regem essa comunidade em determinado período histórico. O entendimento que determinada comunidade faz da loucura definirá a maneira como irá lidar com ela. Se irá escondê-la, prendê-la, ignorá-la, medicá-la, louvá-la.
Foucault (2004) nos conta os processos de construção do conceito de loucura e de exclusão dos que receberam o estigma de loucos. Relata que o grande mal da Idade Média foi a lepra. O primeiro que a sociedade exclui através de instituições. Ao final da Idade Média, a lepra desaparece do mundo ocidental. Seu desaparecimento deixa espaços vazios a serem preenchidos, entre recursos, estruturas físicas, ritos morais, sociais e religiosos. A figura do lazarento precisa ser substituída. Pobres, vagabundos, presidiários e “cabeças alienadas” assumirão, dois ou três séculos depois, o papel abandonado pelo lazarento. Neste entretempo as atenções e repressões morais, principalmente religiosas, são ocupadas pelas doenças venéreas. As doenças venéreas foram internadas, mas não foi nelas que a lepra encontrou sucessão num espaço moral de exclusão e sim na loucura.
No fim do século XV, com advento da manufatura inicial instaurou-se a lógica do viver para trabalhar, e o novo racionalismo aparecia como carente de disciplina. Assim a liberdade coloca-se como incompatível com a subordinação a um processo de trabalho estritamente vigiado e totalmente racionalizado que até então só era conhecido nos presídios e nas casas de detenção (Resende, 1987: 23). Campos e cidades enchem-se de mendigos que, desesperados, tornam-se assaltantes de estradas, ladrões e vagabundos. Punições desde chicotes até pena de morte eram despendidas a vagabundos e ociosos na Europa do final do século XV e início do XVI. As medidas legislativas de repressão se complementaram pela criação de instituições, as casas de correção e de trabalho e os hospitais gerais (que não tinham nada de curativo) destinavam-se a limpar as cidades de mendigos e anti-sociais em geral, a promover trabalho para os desocupados, punir a ociosidade e reeducar para a moralidade mediante instrução religiosa e moral. É nesse momento que a loucura começa a ser varrida da cena social e confinada nos porões das Santas Casas e hospitais gerais. Os tratamentos despendidos aproximavam-se da tortura (entre eles sangrias e purgantes) visando livrar os doentes de seus “maus humores” (Resende, 1987: 24-25).
Loucura ganha status de doença após a Revolução Francesa quando constitui-se como problema social nas cidades. Apesar das bandeiras de liberdade, igualdade e fraternidade, o tratamento da loucura é encarado como uma questão de seguridade social. Na lógica da razão, os que não são possuidores desta ao mesmo tempo deixam de ser considerados capazes de terem direitos e deveres. Neste sentido, os doentes mentais passam a ser excluídos não só do convívio na sociedade, mas também da categoria de cidadãos. Considerar uma pessoa doente mental significa reduzi-la a um objeto de um campo do saber, no caso a psiquiatria. Significa colocá-la no contexto social marcado por um rótulo de louco, perigoso, incapaz de exercer sua plena capacidade humana. Significa também, a prerrogativa da sociedade em isolá-lo do convívio social, do trabalho, da cidade (Dias, 1997: 20).
Segundo Puel (1997) o modelo manicomial associa o diagnóstico de doença mental à incapacidade de pensar coerentemente dentro dos padrões tidos como normais. O normal é o que corresponde às expectativas sociais, o que se mantém em equilíbrio, conformidade e concordância com as normas e valores sociais. É a sociedade que define as normas do pensamento e do comportamento e, uma vez que os sintomas da enfermidade mental são oponentes à norma social, o conceito mental se confunde com o de desviado, inadaptado e marginalizado. (Puel, 1997: 31-32)
Hoje, segundo Silva Filho (1987: 76), é universalmente aceito o conceito da etnopsiquiatria de que a doença só tem sua realidade e valor numa cultura que a reconhece como tal. Lévi-Strauss (Apud Silva Filho) nos diz, em sua teoria da cultura, que esta deve ser pensada como um conjunto de sistemas simbólicos (principalmente a linguagem, as regras matrimoniais, as relações econômicas, a arte, a ciência e a religião). Para ele (Apud Tundis, 1987: 10) as doenças mentais podem ser também consideradas como incidência sociológica na conduta de indivíduos cuja história e constituição pessoais se dissociaram parcialmente do sistema simbólico do grupo, dele se alienando. E mais: que a saúde individual do espírito implica participação da vida social, como recusa em prestar-se a essa participação (sempre em obediência às modalidades impostas) corresponde ao surgimento das perturbações mentais.
Basaglia (1985: 101) diz que família, escola, fábrica, universidade, hospital são instituições que repousam sobre uma nítida divisão de funções, através da divisão do trabalho (servo e senhor, professor e aluno, empregador e empregado, médico e doente, organizador e organizado). Isto significa que o que caracteriza as instituições é a nítida divisão entre os que têm poder e os que não o têm. De onde se pode ainda deduzir que a subdivisão das funções traduz uma relação de opressão e de violência entre poder e não-poder, que se transforma em exclusão do segundo pelo primeiro.
Tais instituições podem ser definidas como instituições da violência. Tal é a história recente de uma sociedade organizada a partir da divisão radical entre os que têm e os que não têm; da qual resulta a subdivisão mistificadora entre o bom e o mau, o são e o doente, o respeitável e o não-respeitavél.
No entanto, percebe-se um esforço dentro de nossa realidade atual em reverter essa conjuntura. Dentro das transformações paradigmáticas que regem o mundo contemporâneo, destacamos uma que acaba norteando uma série de conhecimentos e relações: a maneira de perceber o indivíduo. Existe um esforço de valorização do indivíduo, sua individualidade e subjetividade, suas necessidades, direitos, obrigações, etc. Seguindo essa lógica, dentro da política têm se buscado alternativas mais participativas e inclusivas.
Hoje temos condições de desenvolver novo paradigma sobre a maneira de perceber o indivíduo por causa dos conhecimentos historicamente acumulados, vivências positivas e negativas, experiências frustradas ou bem sucedidas. As mudanças buscam um novo equilíbrio social, motivadas por dúvidas geradas pela reestruturação de valores. Segundo Miriam Dias (1997: 21) a matriz paradigmática da mudança que hoje se coloca é o conviver com os não iguais.
Morin (1995: 161) coloca que para articular e organizar os conhecimentos e deste modo reconhecer e conhecer os problemas do mundo é preciso uma reforma do pensamento. Essa reforma, que comporta o desenvolvimento da contextualização do conhecimento, reclama ipso facto a complexificação do conhecimento. Buscando entender o que significa complexidade para Morin, pode-se dizer que ela existe onde quer que se produza um emaranhamento de ações, de intenções, de interações, de retroações.
Oficina de corporeidade
A complexificação do conhecimento acerca da saúde mental exige um rompimento com a lógica do corpo dócil. Puel (1997: 35) diz que a instituição massifica, generaliza condutas e deixa de lado as reivindicações do louco, de tal modo que são cortados os espaços já restritos com alegações que reafirmam a sua pouca importância no mundo. O corpo do internado transformou-se num mero lugar de passagem: um corpo indefeso, deslocado como um objeto de um pavilhão para outro. Através da imposição do corpo único, sem problemas e sem contradições da instituição, nega-se ao internado, concreta e explicitamente, a possibilidade de reconstruir-se como um corpo próprio capaz de dialetizar o mundo.
Para Leonardis (1990: 68) a subjetividade do paciente existe verdadeiramente apenas no momento em que ele pode sair do manicômio, ou seja, somente quando lhe são restituídos e reconstruídos aqueles recursos e condições materiais, sociais, culturais que tornem possível o efetivo exercício de sua subjetividade: fora do manicômio.
Pelbart (1992: 134) sugere que não basta destruir os manicômios, se ao livrarmos os loucos desses, mantivermos intacto um outro manicômio, que Pelbart chamará de manicômio mental, em que confinamos a desrazão. Sugere, então, necessária uma transformação do imaginário cultural-popular acerca da loucura.
Aproveitamos Ponty para reforçar a posição de Pelbart. Rejeitando posições monistas, objetivistas ou subjetivistas, que reduzem o homem e sua existência a somente um dos pólos que constituem seu ser, Merleau Ponty (apud Gonçalves, 1994: 65) busca a compreensão do homem de forma integral: “tenho consciência de meu corpo através do mundo...” e “...tenho consciência do mundo através do meu corpo”. O homem é um ser-no-mundo e só pode ser compreendido “a partir de sua facticidade”.
Essencialmente associada a transformação do imaginário popular sobre a loucura possibilitando a inclusão social dos portadores de sofrimento psíquico, está o fim das instituições totais destinadas ao seu “tratamento” e a ocupação de espaços públicos por esses cidadãos.
Os esforços por uma maior humanização do entendimento de “doença mental”, do lidar, tratar e conviver com ela, a partir de uma nova percepção de ser humano complexo, multidimensional, possibilitou e motivou uma série de reformas psiquiátricas. Como não poderia deixar de ser, quando ocorre uma mudança paradigmática, ou pelo menos o antigo paradigma não é mais suficiente, faz-se necessário uma readequação dos modelos de assistência, ou melhor, de modelos de atenção.
Mostra-se, portanto, necessária uma adequação das políticas públicas de lazer e capacitação dos profissionais para receber e lidar com essa população. Afinal, como diz Santin (1987: 42), toda prática vem iluminada e inspirada por uma compreensão da realidade.
Dentro de uma lógica de trabalho que transponha as barreiras manicomiais, mas ainda dentro de um manicômio, surge a proposta de trabalho de uma oficina de corporeidade. Ela desenvolve-se em uma unidade de internação aguda do Hospital Psiquiátrico São Pedro, ou seja, com pessoas em fase aguda de sofrimento psíquico.
Este trabalho surge a partir da necessidade de um espaço que possa romper ou, ao menos, tornar menos dolorosa a permanência em um hospital psiquiátrico. A proposta de fazermos uma oficina de corporeidade visa um sujeito não fragmentado que possa ser visto além de um diagnóstico (onde o indivíduo torna-se uma doença); um espaço onde encontre-se consigo e com os demais.
Durante a fase aguda da crise, onde o sujeito sofre intensamente e o corpo está em profundo desmantelamento, é importante poder abordar o sujeito de uma maneira que a esse seja possibilitado uma reflexão sobre as percepções de si, do outro e do mundo.
Sendo o corpo a primeira maneira de sermos no mundo, pensar corporeidade e corpo-sujeito dentro de uma perspectiva de reabilitação psicossocial e desinstitucionalização, justifica-se pelo fato de não termos um corpo, mas sim, sermos o nosso corpo. Portanto, a expressão corporal está relacionada a toda uma significação da existência.
Se considerarmos que a existência da vida humana está na relação existencial corpo-espaço, na intersecção das experiências que se estabelecem entre um e outro, diremos que a corporeidade é a experiência de integrar espaço corporal e espaço de ação (Merleau-Ponty, 1999). O corpo não é apenas espaço corporal, entendido como corpo inteiro, posse indivisível de partes que se relacionam de maneira original, mas também, e principalmente, corpo que habita o espaço e o tempo, assumindo-os, dando-lhes significação original (Merleau-Ponty, 1999).
Lembremos que o sujeito em sofrimento psíquico sofre a despersonalização e a uniformização na forma de ser cuidado. É necessário uma valorização da singularidade e da subjetividade, afinal, a "complexidade existencial não se reduz a um conjunto de sintomas clínicos" (Freitas, 1988).
A inserção de um trabalho que aborda o sujeito de uma forma integral possibilita, através de atividades corporais, a valorização de aspectos saudáveis sempre tão ignorados em uma instituição que reflete o tratamento centrado na doença.
Referências bibliográficas
AMARANTE, Paulo. Asilos, alienados e alienistas: pequena história da psiquiatria no Brasil. In: AMARANTE, Paulo (Org.). Psiquiatria social e reforma psiquiátrica. Rio de Janeiro: Fiocruz, (1992). p.73-84.
BASAGLIA, Franco. As instituições da violência. In: BASAGLIA, Franco (Org.). A instituição negada: relato de um hospital psiquiátrico. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985 (1968). p.99-133.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Subsecretaria de Assuntos Administrativos. Coordenação-Geral de Documentação e Informação. Legislação em Saúde mental. 1990-2001/ Coordenação-Geral de Documentação e Informação,-2.ed. revista e atualizada – Brasília: Ministério da Saúde, 2001.
CHAVES, Mario M. Complexidade e transdisciplinariedade: uma abordagem multidisciplinar. In: Revista Brasileira de Educação Médica. v.21, Rio de Janeiro: 1998.
DIAS, Miriam. Manicômios: sua crítica e possibilidade de superação. In: PUEL, Elisia; RAMINSON, Magda Denise; BRUM, Maria Cristina F. Moreira; MAY, Marta Philipp; DIAS, Miriam; SILVA, Thomas Josué. Saúde mental: transpondo as fronteiras hospitalares. Porto Alegre: Decasa Editora, 1997. p.11-19.
DIAS, Miriam Thaís Guterres et ali. Seguimento e avaliação da reforma psiquiátrica no Hospital Psiquiátrico São Pedro. In: FERLA, Alcindo Antônio &
FOUCAULT, Michael. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1987.
FOUCAULT, Michael. História da Loucura. São Paulo: Perspectiva, 2004.
FREITAS, G.G. O esquema corporal, a imagem corporal, a consciência corporal e a corporeidade. Ijuí: UNIJUÍ, 1999.
GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Editora Perspectiva, 1987.
GUATTARI, Felix. As três ecologias. São Paulo: Brasiliense, 1989.
LEONARDIS, Ota. MAURI, Diana.ROTELLI, Franco. Prevenir e prevenção. In: ROTELLI, Franco; LEONARDIS, Ota; MAURI, Diana; RISIO, C. Desinstitucionalização. São Paulo: Hucitec, 1990. p.65-87.
MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
MORIN, Edgar & KERN, Anne Brigitte. Terra-Pátria. Porto Alegre: Sulina, 1995.
MORIN, Edgar. Epistemologia da complexidade. In: SCHNITMAN, Dora Fried (Org.). Novos paradigmas, cultura e subjetividade. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Relatório sobre a saúde no mundo: Saúde mental: nova concepção, nova esperança. Gráfica BRASIL, 2001.
PELBART, Peter Pál. Vida Capital: ensaios de biopolítica. São Paulo: Iluminuras, 2003.
PELBART, Peter Pál. Manicômio mental: a outra face da clausura. In: SaúdeLoucura. São Paulo: Hucitec, 1992.
PUEL, Elisia; BRUM, Mara Cristina Moreira; MAY, Marta Philippi. A doença mental transpondo barreiras hospitalares: conceitos diversos sobre hospital, loucura, mundo e cidadania. In: PUEL, Elisia; RAMINSON, Magda Denise; BRUM, Maria Cristina F. Moreira; MAY, Marta Philipp; DIAS, Miriam; SILVA, Thomas Josué. Saúde mental: transpondo as fronteiras hospitalares. Porto Alegre: Decasa Editora, 1997. p.31-75.
ROTELLI, Franco. A instituição inventada. In: ROTELLI, Franco; LEONARDIS, Ota; MAURI, Diana; RISIO, C. Desinstitucionalização. São Paulo: Hucitec, 1990. p.89-99.
SANT’ANNA, Denise Bernuzzi. Corpos de passagem. São Paulo: Estação Liberdade, 2001.
SANTIN, Silvino. Educação Física: uma abordagem filosófica da corporeidade. Ijuí: UNIJUÍ, 1987.
WADI, Yonissa Marmitt. Palácio para guardar doidos: uma história das lutas pela construção do hospital de alienados e da psiquiatria no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 2002.
ZIMMERMAN, David. Modalidades grupais. In: ZIMMERMAN, David (Org.). Grupoterapias. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. p. 55-63.